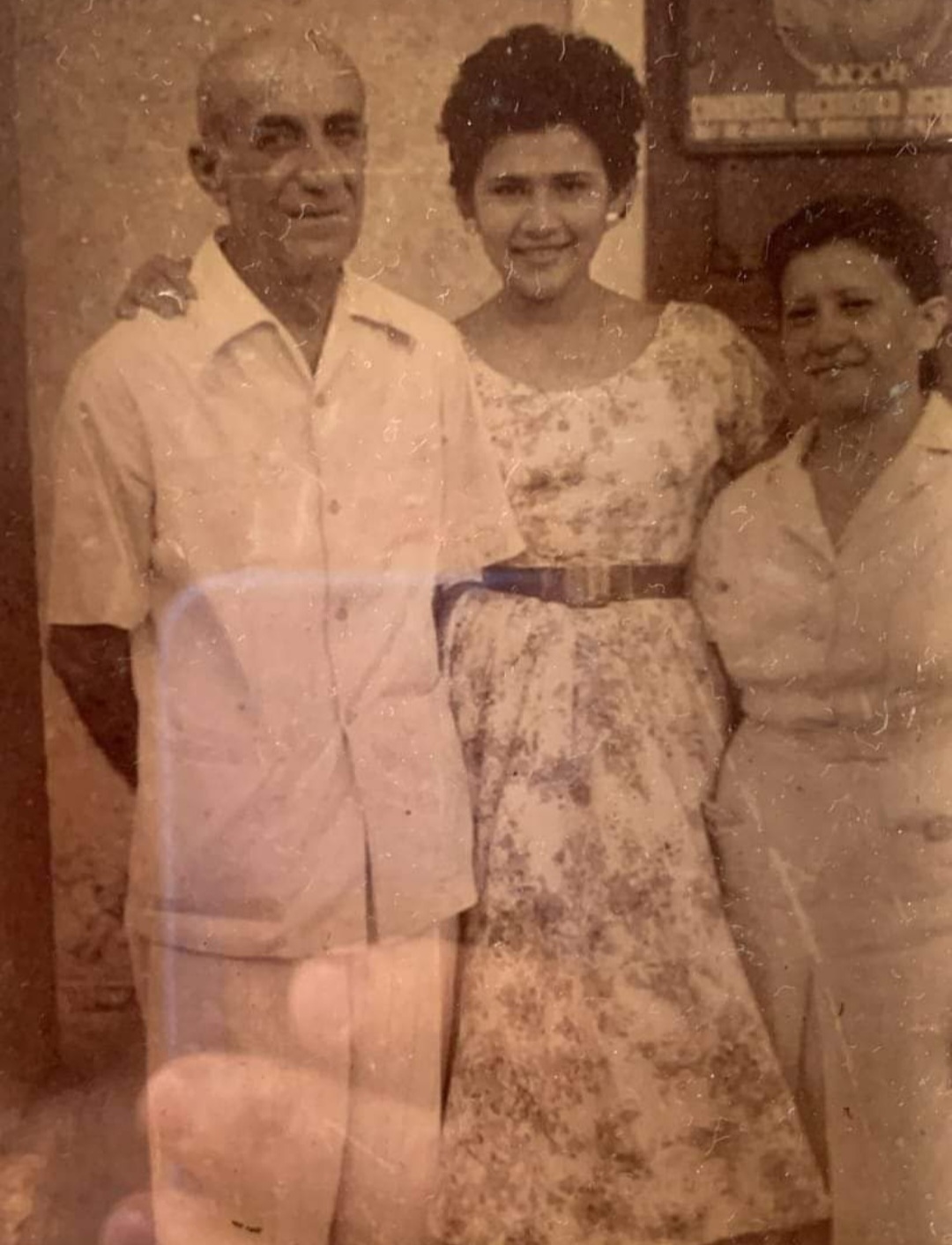Até quando uma notícia, uma foto ou um acontecimento da sua vida deve permanecer circulando na internet contra a sua vontade? Será que um erro ou um fato pessoal do passado precisa ficar eternamente associado ao seu nome, mesmo quando já não faz sentido ou perdeu a relevância com o tempo? Afinal, a sua imagem e a sua história podem ficar indevidamente associadas a episódios já superados?
Imagine, por exemplo, no caso de alguém que tenha sido vítima de um crime sexual. Essa pessoa deve ser constantemente lembrada por aquele episódio doloroso, mesmo anos depois de ter tentado reconstruir a sua vida? Considerando um fato verdadeiro do passado, pode este perseguir uma pessoa por toda a vida, apesar de se reconhecer que essa exposição contínua impede ou, no mínimo, dificulta o direito de superar o trauma e de seguir em frente?
Na era da informação ilimitada, em que tudo pode ser registrado, compartilhado e multiplicado em questão de segundos, lembranças do passado retornam com frequência, muitas vezes sem que a pessoa tenha qualquer controle sobre isso. Esse contexto é fruto do extraordinário avanço tecnológico que vivenciamos. Hoje, quase todo tipo de dado pode ser armazenado e disseminado instantaneamente nos meios digitais, criando um panorama em que a retenção de informações parece não ter limites.
Cada registro se converte em um vestígio permanente, preservado sem prazo de validade. Essa hiperconectividade, somada ao poder de armazenamento e de processamento de dados, deu origem ao que muitos chamam de era da memória permanente, um tempo em que esquecer tornou-se um desafio cada vez maior.
Essa característica da era digital inverteu uma lógica histórica que sempre acompanhou a humanidade. Durante séculos, esquecer era algo natural: a memória individual e coletiva tinha limites, e o tempo se encarregava de apagar lembranças. Hoje, porém, vivemos o oposto. O esquecimento, que antes era a regra, tornou-se a exceção, enquanto a recordação permanente passou a ser o padrão.
Essa nova realidade, portanto, embora impulsione formas inéditas de interação e acesso à informação, também cria desafios significativos para a sociedade. Ilustrando, quando determinados fatos já perderam sua relevância social, mas continuam a ser relembrados apenas para expor alguém, se transformando em um estigma, uma marca permanente que interfere diretamente na vida privada e na liberdade de existir no presente. É nesse contexto de memória pública e ilimitada que surge a discussão no campo jurídico em torno do chamado direito ao esquecimento.
A partir dessa realidade hoje vivenciada que o grande dilema se instaura, qual seja, a de se buscar conciliar a memória (potencializada pela era digital) com o direito fundamental das pessoas de desassociarem fatos passados (exclusivamente pertencentes à esfera privada) que não mais contribuem para a representatividade de quem se é hoje. A reflexão é, em suma, voltada a viabilidade de se evitar (ou não) a perpetuidade de informações que não interessam ao espírito coletivo e, de tal sorte, que podem implicar numa nova forma de aprisionamento (perpétuo) pelos registros do passado.
O tema ganha relevância especialmente porque a tecnologia, ao mesmo tempo em que facilita a vida cotidiana, também eterniza memórias digitais. Notícias, fotos, vídeos e até comentários publicados em redes sociais podem permanecer disponíveis indefinidamente, acompanhando uma pessoa por toda a vida. Surge, então, a questão: até onde vai o direito coletivo de lembrar e até onde começa o direito individual de esquecer?
Historicamente, o direito ao esquecimento surgiu nas ciências criminais. A ideia inicial era permitir que pessoas condenadas, após cumprirem suas penas, tivessem a chance de reconstruir suas vidas sem carregar eternamente o estigma do delito. O fundamento era o caráter ressocializador da pena: impedir que, após o cumprimento da condenação, o indivíduo fosse submetido a uma punição social adicional. Com o tempo, o conceito se expandiu para o Direito Civil e Constitucional, tornando-se um debate mais amplo sobre os direitos da personalidade e os limites da exposição pública.
No plano conceitual, o direito ao esquecimento parte da ideia de que certas informações antigas, sem interesse público e que apenas ferem a privacidade ou a dignidade de alguém, não devem ser eternamente lembradas e expostas.
Alguns estudiosos reforçam que esse direito se fundamenta no reconhecimento de que, embora ninguém possa apagar o passado ou refazer escolhas já feitas, toda pessoa deve ter a legítima expectativa de não ser obrigada a reviver, indefinidamente, episódios traumáticos, vexatórios ou constrangedores de sua vida. Isso é especialmente verdadeiro quando a lembrança constante desses fatos compromete de maneira desproporcional a dignidade e os direitos da personalidade do indivíduo, sem que, por outro lado, estejam em jogo interesses coletivos.
É importante destacar que não se trata de um “direito de reescrever a história” ou de apagar acontecimentos já ocorridos. O propósito é evitar que uma pessoa seja apresentada de forma distorcida à sociedade, como se sua identidade estivesse congelada em um único episódio do passado, ofuscando sua realidade atual e o caminho que construiu ao longo do tempo.
Nesse sentido, como afirmam alguns juristas, há um equilíbrio delicado: de um lado, é legítimo que a sociedade tenha acesso a fatos históricos e possa rememorar acontecimentos relevantes; de outro, não é justo que alguém seja condenado a carregar para sempre a marca de um episódio pretérito, sobretudo quando isso compromete a possibilidade de reconstrução de sua vida . Basicamente, máculas e erros não precisam acompanhar o ser humano de forma permanente.
Em síntese, o direito ao esquecimento busca proteger a intimidade e a personalidade, reconhecendo que a permanência incessante de informações antigas pode prejudicar o processo de autoconstrução do indivíduo. Ao perpetuar uma imagem incompleta e distorcida, a sociedade corre o risco de aprisionar uma pessoa ao seu passado, impedindo-a de ser vista em sua plenitude no presente.
A complexidade da situação reside no fato de que há uma linha (que, muitas vezes, pode ser tênue) entre quais informações revelam um interesse público genuíno com aqueles que estão açambarcados pelo direito exclusivamente individual à reinvenção pessoal.
Para além de sua formulação teórica, é importante destacar que o direito ao esquecimento não está previsto expressamente em nenhuma lei federal. Sua construção sempre se deu no campo da interpretação jurídica, sendo considerado uma decorrência lógica das garantias constitucionais e civis ligadas aos direitos fundamentais e à proteção da personalidade.
De forma resumida, compreende-se o direito ao esquecimento como uma extensão do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal). Ele também se relaciona diretamente à proteção da intimidade e da privacidade (art. 5º, incisos V e X, da Constituição) e à tutela geral dos direitos da personalidade, prevista nos artigos 11 a 21 do Código Civil.
Apesar dessa base interpretativa, a relevância do tema e os debates crescentes em torno de sua aplicação levaram a questão ao Supremo Tribunal Federal (STF), no conhecido Caso Aída Curi, julgado no Recurso Extraordinário nº 1.010.606/RJ.
Nesse julgamento, a Corte Suprema, ao fixar a tese de repercussão geral no Tema 786, entendeu que o direito ao esquecimento, entendido como o poder de impedir a divulgação de fatos ou dados verídicos e obtidos de forma lícita, é incompatível com a Constituição Federal. O STF firmou o entendimento de que a liberdade de expressão e de informação deve prevalecer nesse contexto, cabendo ao Poder Judiciário analisar, caso a caso, eventuais abusos ou excessos cometidos por veículos de comunicação, com base nos parâmetros constitucionais e nas previsões legais já existentes nas esferas penal e cível. A decisão revela, de certa forma, a complexidade de se compatibilizar direitos fundamentais numa sociedade cada vez mais digital a partir das “faces de um mesma moeda”.
Diante do exposto, embora a decisão do Supremo Tribunal Federal tenha declarado a incompatibilidade do direito ao esquecimento com a Constituição, este entendimento jurisdicional não constitui um marco final em torno do debate sobre o tema. Pelo contrário, as discussões permanecem vivas e relevantes, sobretudo em razão da força crescente das plataformas digitais e do poder cada vez maior da tecnologia em armazenar, replicar e disseminar informações sem limites temporais.
A realidade social continua a evidenciar situações em que a exposição permanente de fatos do passado gera graves consequências à dignidade e à privacidade das pessoas, ao passo que as inovações jurídicas em prol da proteção à pessoa humana nunca se tornam estáticas, mas sempre em constante evolução e ampliação dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.
Da mesma forma que o Direito se transforma à medida que novos desafios emergem na sociedade, assim, permanecem em acentuada discussão os parâmetros de proteção à intimidade e à personalidade humana em um ambiente hiperconectado. Questões como a responsabilização de plataformas, o equilíbrio entre liberdade de informação e proteção da dignidade, e a necessidade de novos instrumentos normativos seguem como pautas urgentes para a sociedade e para o mundo jurídico.
Nesse sentido, o debate sobre o direito ao esquecimento deve ser compreendido não como algo superado, mas como parte de uma reflexão em constante evolução, que demanda por compreensões e soluções que fujam da hermenêutica convencional. A proteção da pessoa humana frente às novas tecnologias exige uma “engenharia jurídica e social inovadora”, capaz de conciliar memória e esquecimento, lembrança e dignidade.
O futuro desse debate depende tanto da sensibilidade do legislador quanto da atuação responsável dos tribunais, sempre com o objetivo de assegurar que, em meio à era da memória permanente, cada indivíduo continue tendo o direito de ser reconhecido por quem é no presente, e não apenas pelo que viveu no passado, de forma a assegurar a plenitude da existência individual das pessoas no espaço-tempo digital.
Este presente texto resulta das pesquisas científicas realizadas ao longo dos anos de 2024 e 2025, no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBITI) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
Carlos Eduardo Silva e Souza e Diego Macacchero Feguri_